“Começo este livro no dia da mãe. É a minha segunda celebração, apesar de o meu filho ter 8 anos e de a minha filha ter 17, e não viver connosco. (...) Há muitas formas de se ser mãe, e não me impressiona a ideia de que o meu filho tenha duas ou até três mães. Todas gostamos dele, disso não tenho dúvidas, e pode ser que se ele o souber cresça mais forte e feliz, assim como a sua irmã”. No primeiro parágrafo de Adopção Tardia, livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e publicado em maio de 2021, Maria Sequeira Mendes, a sua autora começa por nos situar. Abre-nos a porta e convida-nos a entrar num mundo que é o seu, mas que é também universal.
Maria tem 44 anos, nasceu em Portalegre, é professora na Faculdade de Letras da Universidade. Tem dois filhos, de quem é orgulhosamente mãe e de quem fala sempre com uma profunda admiração. Como qualquer mãe, tem uma vida profissional e ocupações além da maternidade, mas tornou a sua experiência em algo maior do que a experiência em si. Algo maior do que ser mãe de dois filhos e ter passado por um processo de adopção. Adopção Tardia é o livro que gostava de ter lido quando decidiu adoptar uma criança e uma adolescente que já tinham idade suficiente para revisitar as memórias que podiam querer esquecer; é um gesto “egoísta” — é a própria que assim o adjetiva — cheio de generosidade. Com a ajuda das equipas que estiveram do seu lado, uma da Segurança Social e outra da Santa Casa da Misericórdia, conseguiu chegar a mais histórias e ouvir as pessoas que raras vezes são ouvidas quando se escreve sobre adopção: as crianças, jovens e adultos que passaram pelo processo de adopção.
Num livro que se lê num sopro, Maria Sequeira Mendes desconstrói os estereótipos que existem em torno da adopção tardia numa abordagem de proximidade. Não há espaço para frases feitas nem para ideias infundamentadas. Com recurso a referências como Johanne Lemieux - autora de La Normalité Adoptive, que teoriza e simplifica as complicações da adopção - e a vozes que falam na primeira pessoa, costura uma manta de retalhos que nos mostra que o processo de adopção tem tanto de complexo como de fascinante. Cinco meses depois do lançamento de Adopção Tardia, Maria Sequeira Mendes conversa com o Gerador sobre o livro que já tem sido útil para famílias que estão a dar início a processos de adopção, os desafios de pais e filhos, e a urgência de se perceber que, afinal, o direito à família não pertence aos pais, mas sim as crianças.
Gerador (G.) - A Maria começa o livro num tom muito pessoal, colocando-se de imediato na história. Sabemos, desde logo, que tem dois filhos e que passou por um processo de adopção. Este livro partiu de uma certa inquietação? É o livro que gostava de ter lido?
Maria Sequeira Mendes (M.S.M.) - Sim, é. Um bocadinho depois da adopção comecei a fazer parte de um grupo de pós-adopção americano, que foi muito importante para mim porque de repente cheguei lá e as dificuldades que eu tinha eram super normais. Toda a gente dizia “ah, isso, claro claro”. Um pai adoptivo, ou uma mãe no meu caso, que tem uma criança já crescida não passa por aquela fase do bebé, em que podemos fazer asneiras e ninguém sabe [risos]. Esse grupo foi muito importante e eu percebi que era mesmo necessário ter contacto com outros pais que tinham adoptado, e parti dessa ideia de poder começar a conhecer famílias e fazer um estudo sobre como é que tinha sido com crianças mais velhas, como é que elas estavam agora, e acabou por ser muito útil. Não apenas os contactos com as famílias, mas sobretudo com os jovens que foram adoptados — achei que foi mesmo bonito, porque tal como acontece com a minha filha mais velha que tem lembranças e que consegue descrever as coisas muito bem, acho que os miúdos que surgem no livro descrevem de formas muito perspicazes e inteligentes as experiências pelas quais passaram, e penso que tinha sido importante para mim tê-las ouvido antes da adopção. Acho que posso dizer que é um livro egoísta, e que tem o impulso de transmitir a outros pais essa informação que fui recebendo.
G. - Mas há uma generosidade muito grande nesse egoísmo. No seu livro, diz-nos que existem sete vezes mais candidatos à adopção do que crianças para adoptar; ainda assim, é elevado o número de crianças que crescem em instituições. Esta era uma realidade que já conhecia?
M.S.M. - Já conhecia e sabia que a partir de uma certa idade — diria que dos 9, 10 anos, às vezes menos — é muito difícil. Aos 14 anos, certamente, é muito difícil as crianças encontrarem uma família, o que é extremamente injusto. Às vezes também penso nisso, porque se isto fosse normalizado era tão mais fácil perceber-se que não é um bicho de sete cabeças. As pessoas têm muito medo de uma realidade que não conhecem, ou tentam reproduzir o modelo da criança com que sonharam e que não puderam ter (em casos de infertilidade), mas eu acho que a adopção é uma coisa diferente. Não é uma criança para nós, nós é que estamos a dar uma família à criança — tem que ser ao contrário. Desse ponto de vista, é mesmo engraçado quando eles são mais velhos porque já conseguimos conversar, já conseguimos trocar ideias, fazer perguntas, e isso facilita tanto o processo de adopção. Tenho muita pena que alguns candidatos, e às vezes algumas equipas também, fiquem focados na ideia de que uma criança mais velha está “muito traumatizada e vai ser impossível”. “Já não há nada a fazer”. Que horror, como se aos 10 anos alguém tivesse uma marca pela frente que diz que a vida nunca vai ser boa. Não pode ser, não pode ser assim.
G. - Essa questão da expectativa é abordada logo no começo. Fala-nos na expectativa que existe de um lado e de outro: a adopção vista como alternativa aos filhos que se conseguiu ter de forma biológica, num lado, e a família que não corresponde ao que se imaginou, no outro. Sente que quando se fala de adopção, por norma, se fala como um plano B?
M.S.M. - Acho que às vezes pode ser um plano B que surgiu numa história de infertilidade, mas para muitas pessoas que eu conheço foi um plano A. E mesmo para as que foi um plano B, a certa altura o plano B transformou-se num plano A super desejado. Acho que as famílias não a sentem como algo menor, pelo contrário; é muito bonito ver o orgulho que os pais têm nos filhos, e a maneira como eles são tão melhores do que nós.
G. - A Maria quis fazer algo diferente: deu espaço a crianças, jovens ou, em alguns casos, adultos que tinham sido adoptados. Menciona, a certa altura, uma abordagem negativa dos órgãos de comunicação social quando falam no tema — acha que essa abordagem negativa vem também porque não se traz a voz destes jovens que a Maria trouxe?
M.S.M. - A adopção em geral é sigilosa, as famílias não têm contacto umas com as outras. Não existe uma rede de famílias adoptivas, o que significa que muitas vezes nós temos amigos que adoptaram e, a não ser que sejam amigos muito próximos, nós não sabemos. Quando iniciei este percurso e disse que estava no processo, comecei a aperceber-me que à minha volta havia uma série de pessoas que ou tinham adoptado, ou que estavam no processo, ou que já tinha adoptado mais do que uma vez. O que percebi é que é claro que não se fala sobre isto, porque a partir de uma certa altura a adopção deixa de ser relevante, a família constitui-se enquanto família e a adopção é uma coisa que está no passado. Depois aquele é o meu filho, eu sou a mãe, não é necessário a pessoa explicar o processo. Mas isto leva a que quando corre bem, nunca se fale do assunto porque ficou lá para trás no passado.
Na comunicação social existe alguma tendência para, por vezes, ter uma abordagem catastrofista - “filho adoptado assassina mãe”. Eu penso sempre quantos o fizeram e não eram adoptados. Há falta de informação, e isso não ajuda nem os pais, nem as crianças, nem as escolas, nem os pediatras. Sinto que há um grande esforço que está a ser feito e que precisa de continuar a ser feito, no sentido de sabermos mais uns sobre os outros.
O livro foi lançado em maio deste ano
G. - Que preocupações deviam existir, antes de mais, com crianças institucionalizadas? Falta ouvi-las para percebermos as suas necessidades? Num dos capítulos do livro menciona, por exemplo, como a saúde melhora a partir do momento em que uma criança é adoptada.
M.S.M. - Por um lado, falta ouvi-los, mas é preciso também ter consciência das diferenças entre as casas de acolhimento em Portugal. Saiu recentemente um estudo da Universidade do Porto que revela grandes assimetrias: é verdade que nas melhores casas de acolhimento as pessoas podem, ainda assim, chegar à família com algumas dificuldades, mas há casas que precisam de uma mudança profunda. A Santa Casa da Misericórdia está a fazer um trabalho incrível no que toca ao acolhimento familiar, que permitiria resolver uma série de questões. Quando uma criança vai para acolhimento familiar, de repente tem uma figura materna e paterna, ou duas mães e dois pais, que de repente estão concentrados nela. Isso dá mais espaço a que se perceba se não vê bem, por exemplo, se existe algum problema de saúde que tenha. O acolhimento nas instituições devia ser uma espécie de último recurso e não o primeiro, e aqui o trabalho que tem sido feito recentemente está a ir num bom caminho.
G. - É interessante esta questão da individualidade, de dar espaço a cada um e cada uma para falar. “Um quarto só para si” é uma expressão que utiliza muito quando fala na transição da instituição para a casa — que lembra a ideia de emancipação que também a Virginia Woolf descreve no livro homónimo. O que representa este ganhar de espaço, de um lugar de individualidade? A Carmo, uma das meninas do livro, fala da sua amiga Susana que viveu sempre em casas de acolhimento e diz que uma rapariga de 18/19 anos precisa da sua privacidade.
M.S.M. - Eu acho que onde se nota mais essa diferença entre o grupo e o individual é na questão da comida. A vida numa casa de acolhimento não é como numa casa de família; claro que numa casa de acolhimento se come às refeições, mas há regras que se repetem para todas as crianças. Como se apercebe no livro, há crianças que passaram fome antes de chegarem a casas de acolhimento, e começam a guardar comida ou a esconder comida, e outras não querem simplesmente comer nada. Num acolhimento, o facto de ser tudo à mesma hora para todas as crianças, independentemente de poderem ter sono ou não, de terem muita ou pouca fome, leva a que exista alguma desregulação no resto. O quarto só para si é uma coisa que é mesmo importante porque, por um lado, é um espaço de liberdade, onde também eles se podem refugiar da própria família no início, quando se sentem mais em baixo, e também é um lugar onde podem escolher as suas coisas. Normalmente chega-se a uma casa de acolhimento, mesmo àquelas muito boas, e já está tudo escolhido. Eles vão podendo formar o seu quarto à medida que lá estão, mas também é um local de passagem, se tudo correr bem. Também é um espaço onde os miúdos podem tirar coisas uns aos outros e, muitas vezes, a sensação da propriedade — “agora estou aqui, isto é finalmente meu, já não vou mudar de casa, não vai haver nada que se vai perder nas mudanças” — é mesmo importante. Em casos como o da Susana, o quarto é absolutamente fundamental, porque os adolescentes precisam do seu espaço. Outra coisa que também acontece muitas vezes é estarem jovens com 14 anos no mesmo espaço de uma criança de quatro e uma de seis, e as necessidades são muito diferentes, o que acaba por também afetar o desenvolvimento de cada um.
G. - Ao mesmo tempo, havia uma autonomia que de repente precisa de ser reconfigurada. Quando se passa a ter uma pessoa adulta que é mãe ou pai, e não se tem de tomar conta de si, de certa forma, as coisas mudam.
M.S.M. - Isso eu acho que leva tempo, e acho que é capaz de ser a maior fonte de conflito quando os pais não percebem. Tenho uma amiga que adoptou uma menina que tem quatro anos e que estava muito habituada a tomar conta de si, portanto ela só agora ao final de dois anos é que começa a deixar que tomem conta dela. Quando a mãe adoece, ela entra logo no papel de cuidadora. É uma coisa que demora muito tempo a passar e que não podemos levar a mal, porque também é um sintoma de grande capacidade de resiliência. No fundo, só é preciso ir respeitando o espaço da criança ou do jovem que está connosco e ir perguntando se podemos ajudar, aceitar um não se quiserem ser eles a fazer, às vezes em coisas muito simples como escovar o cabelo, falar com os professores. Nós esquecemo-nos que também dessas coisas, muitas das vezes, eram eles que tratavam e não gostam da sensação de estarem a perder o controlo. A família real nunca é igual à que se idealizou, portanto por um lado é bom saber que temos alguém que toma conta de nós e que nos vai dar as boas noites, mas por outro lado se não temos cuidado podemos dar início a batalhas de controlo que se prolongam.
G. - Uma das coisas que fica bastante clara no livro é a sua preocupação de quebrar com uma generalização e um estigma consequentes. Johanne Lemieux distingue as crianças para adopção em categorias, e a Maria dá a conhecer estas categorias de forma a que também possamos perceber uma série de possibilidades. Como é que se faz uma correspondência entre os pais e cada criança? Por exemplo, como se sabe que uma família será capaz de acolher uma flor de inverno [1] ?
M.S.M. - Esse livro foi o mais importante para mim, porque é uma espécie de Bíblia da adopção. A autora fala de quase todos os comportamentos de crianças e jovens adoptados, sugere maneiras de lidar, tem uns quadros que dizem o que fazer em determinadas situações. Gostava muito que fosse traduzido em português, estou a tentar há algum tempo. Essa caracterização que ela faz das crianças também me ajudou muito, porque nos faz perceber que as crianças de inverno, por exemplo, são muito menos do que aquilo que imaginamos. Também ajuda a perceber que os pais capazes de receber essas crianças são muito menos do que a maioria dos pais, mas é importante saber que não é uma questão de idade, porque uma criança de inverno pode ter qualquer idade. Os pais acham sempre que quanto mais crescida for a criança, mais difícil vai ser, mas não tem que ver com a idade; tem que ver com um conjunto de circunstâncias como a experiência passada, o período na casa de acolhimento. Outra coisa que foi muito importante para mim foi perceber que não é sobre nós, é sobre elas.
A correspondência no processo de adopção é algo que acontece formalmente. O que acontece é que depois de preenchermos os papéis fazemos uma série de testes, somos entrevistados durante vários dias para nos ficarem a conhecer bem, vamos também falando dessa espécie de criança imaginada em que tínhamos pensado, e depois é uma equipa que faz a correspondência. Há uma lista nacional de adopção e há um juiz que dá a sentença de adoptabilidade para uma criança, a criança é colocada na lista e vai para todas as equipas de todo o país, e depois há várias equipas que dizem quais são os pais e mães que são capazes, todos se encontram e acabam por entregar a criança a uma das famílias. Entretanto eu já conheci candidatos que queriam ou achavam ser capazes de adoptar uma criança mais velha e depois, em conversa com a equipa que os acompanha, essa equipa dissuadiu-os por causa da idade. Eu acho que em alguns casos não seriam candidatos capazes, mas que noutros são preconceitos que podem existir nas próprias equipas, e portanto tinha esperança que se as equipas começassem a perceber que se calhar a dificuldade tem que ver com as experiências da criança e não com a idade, começávamos a ter muito mais adopções de crianças mais velhas.
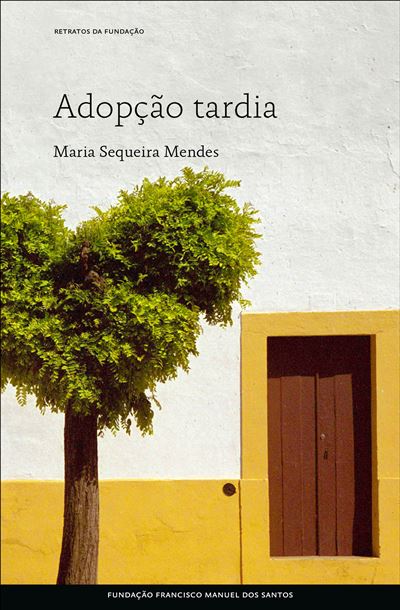
O livro de Maria Sequeira Mendes integra a coleção Retratos
G. - Faz sentido pensar que há uma idade para os pais adoptarem? Existe o conceito de adopção tardia para pais?
M.S.M. - Eu acho que faz! No livro da Lemieux, ela defende que os pais devem ser muito mais novos do que a idade média da adopção. A média no Canadá é entre os 40/50 e ela diz que é quando as pessoas já têm algum arcaboiço, já têm condições financeiras, e eu também tinha pensado sempre assim. Mas depois ela também demonstra que perto dos 50 é uma idade em que além de nos sentirmos mais cansados — portanto, temos menos energia para a criança que vem —, também temos os nossos pais a começarem a ter dificuldades. Então, em vez de os avós poderem ser um apoio que podiam ser, os pais têm que lidar com uma criança que pode ter comportamentos menos fáceis e com um pai ou uma mãe doente, e isso é uma grande complicação. Eu conheço alguns casos de pessoas que estiveram muito tempo à espera, adoptaram mais tarde do que tinham pensado, e depois a mãe está no hospital, a criança está com dificuldades em casa e fica difícil gerir tudo. Quanto mais cedo, melhor. Depois, ao mesmo tempo, também conheço casais que adoptaram mais tarde, que receberam flores de inverno, e que dizem “eu há 15 anos nunca conseguiria ter feito isto, porque precisei da maturidade que tenho agora para conseguir dar dois passos atrás, ter muita calma”, mas acho que a idade é mesmo algo a ter em consideração.
G. - Só se pode adoptar até os jovens terem 15 anos, ao contrário do que acontece noutros países. Porque será que existe este limite cá em Portugal? Como nos mostra através da voz das pessoas que entrevista, é como se esses 15 anos fossem uma fatalidade e não houvesse vida pela frente para viver com uma família.
M.S.M. - Eu acho que é criminoso. É uma das coisas que mais me aborrece na legislação. Aquilo que me explicaram é que tem que ver com a Lei das Heranças — ao que parece Portugal é um dos países mais conservadores da Europa no que diz respeito à Lei das Heranças — e que existirá uma implicação em adoptar uma criança mais velha e esta questão das heranças. Muito do Direito da Família vem dos tempos do Estado Novo, de uma concepção de família que era de facto muito tradicional e antiga. O que eu acho que esta lei não permite ver é que o panorama das crianças mudou bastante, porque aquilo que acontece é que a partir do momento em que é introduzida a permissão do aborto, a idade das crianças para adopção muda; hoje em dia, e muito bem, há muito poucos bebés para adoptar porque as mulheres têm outro poder de decisão, e o que acontece é que as crianças que são retiradas à família, de uma forma geral, são retiradas por negligência, por abuso, por situações familiares precárias. São crianças que precisam de um sistema de apoio e de ajuda, e não só se leva muito tempo a retirá-las, como depois se leva muito tempo a dar a sentença de adoptabilidade, o que depois significa que quando se olha para a tabela, de repente o maior número de crianças é dos 7 anos para cima, e há cada vez mais casas de autonomia porque os jovens com 14, 15 anos têm de passar para lá. Acha-se que aos 14/15 anos uma pessoa não precisa de família. O que acontece é que estes jovens ficam sem uma base de apoio, há uma série de cuidadores que vão mudando ao longo do tempo, não há uma rede de apoio. Há uma associação chamada PAJE - Programa de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos que percebeu que este é um problema enormíssimo, e dão apoio àquilo que eles chamam de “jovens ex-acolhidos”, porque também acontece por exemplo um jovem de 17 anos ir para uma casa de autonomia, apaixona-se e decide sair, de repente a relação corre mal e já não pode voltar. Temos um jovem de 17 anos sem um lugar para onde ir, sem poder voltar e sem uma rede de apoio. O que acontece muitas vezes é regressarem a casa — então para quê ir retirar? É absurdo achar-se que aos 17 ou aos 18 anos, aos 20 que seja, uma pessoa que nunca teve uma família já não precisa de a ter, que já não merece.
G. - Até porque acaba por ficar desamparada na vida adulta, não tem a quem recorrer.
M.S.M. - É isso mesmo. E também esta ideia de que por muito boa que seja a casa de autonomia ou de acolhimento, por muito que um cuidador goste dos miúdos, não é a mesma coisa que eles saberem que são a coisa mais importante na vida de uma família. Existem as questões de saúde, mas também as de educação. Estes jovens muitas vezes são encaminhados para profissões onde se pensa que eles podem ter utilidade, que eu acho que é outro resquício do Estado Novo. Não interessa se são hipertalentosos, vai-se tentar encaminhar para um ofício. Já começa a aumentar o número de pessoas a ir para a universidade, mas é sempre com a ideia de escolherem alguma coisa que dê dinheiro porque não têm uma base de apoio. A ideia de vocação e de interesse desaparece completamente. São quase três mil jovens nestas situações e a lei não muda. Há uma juíza, a Maria Clara Sottomayor, que tomou uma decisão histórica no Supremo Tribunal há cerca de seis meses, e permitiu a adopção de uma rapariga que tem agora 18 anos e que vivia com aquela família há já algum tempo. Foi a primeira vez em Portugal que a decisão foi tomada a pensar na criança e não em tudo o que está à volta.
G. - Neste livro, a Maria diz que a escola “é mais do que o conteúdo académico”. Que lugar é que a escola ocupa ou pode ocupar neste processo de adopção tardia? Acho bastante interessante o caso do Emanuel, que dizia que a escola e os colegas foram fundamentais para encontrar alguma normalidade.
M.S.M. - A escola é fundamental, o apoio da escola é fundamental. Não só é o sítio onde passam mais horas, como é o lugar onde as dificuldades vêm ao de cima. Quando a auto-estima é baixinha e a sensação de rejeição é grande, o facto de não se conseguir fazer uma coisa na escola assume uma proporção enorme na cabeça de cada um. Houve uma miúda muito engraçada que me contava que na escola anterior ela portava-se mesmo mal para a professora a obrigar a ir para fora da sala, e ela assim não tinha que mostrar que não sabia nada, mas na escola nova a professora percebeu o que ela estava a fazer, ajudou-a a ultrapassar cada problema e que agora gosta da escola. Um professor que é capaz de perceber que aquela criança está num processo de transição que é muito difícil, que acabou de perder os amigos todos e os cuidadores principais, e que a escola pode ser um lugar importante, é mesmo fundamental. A outra coisa é que, em geral, estes miúdos estão sempre em hipervigilância, numa sensação de alerta, a tentar perceber se há alguma coisa que vai correr mal. Prestam mais atenção, às vezes, às reações do professor do que à matéria. Um professor que percebe isto e que é capaz de ir lá e dizer “ah, hoje estás tão bonita” ou qualquer coisa do género, de repente baixa o nível de vigilância da criança e esta permite-se começar a aprender. Uma boa escola e um bom diretor de turma.
G. - Passa por haver mais formação para os profissionais de educação para que saibam como lidar com estas situações?
M.S.M. - Eu sou professora e a verdade é que agora olho para a minha turma de uma maneira diferente. O aluno que pede atenção, que parece sempre distraído, tem um contexto. Eu acho que nunca fui uma professora chata, mas agora preocupo-me de outra forma. Na faculdade não temos contacto com os pais, em geral são turmas muito grandes, e portanto nós não sabemos, não fazemos ideia das dificuldades pessoais que aquela pessoa pode estar a ter naquele momento. Agora tento ser mais atenta e acho que ajuda muito procurar saber mais. O nosso site tem uma secção sobre a escola e tinha muita esperança que as pessoas fossem ver, fossem espreitar e percebessem melhor estas dificuldades. Às vezes pode parecer só um miúdo irrequieto, uma miúda apática, mas isso é muito injusto.
G. - Sobre a saúde mental das crianças institucionalizadas diz-nos que “correm maior risco de depressão e ansiedade”. Falámos já no processo de transição, mas acha que devia haver um acompanhamento mais dirigido e pessoal na fase da casa de acolhimento? Sugere no livro, por exemplo, serviços de apoio psicológico especializados em adopção e trauma.
M.S.M. - Uma das grandes dificuldades dos pais é que quando as crianças chegam, quase todas elas, precisam de apoio psicológico durante a transição e no ano que se segue. Mas todo o apoio é feito, grande parte das vezes, à conta dos pais. Há muitos psicólogos no Estado, é difícil ser-se referenciado, e este acaba por ser um montante de que os pais têm de dispor. Sempre me pareceu que a vida destes miúdos foi tão chata, tão injusta, que eles mereciam ter os melhores médicos, os melhores psicólogos, acesso privilegiado de maneira a poderem ficar bem. É como naquelas corridas em que já se começa atrás, e eu que tive um apoio excelente com os meus dois filhos, vi a importância que isso teve e as maravilhas que faz. Também para nós pais, porque muitas vezes os pais não sabem bem como lidar com as dificuldades, e ter alguém que nos diz “isto está a levar tempo, mas vai correr bem” é muito tranquilizador. Eu nunca me tinha apercebido de como de facto é tudo diferente, para eles: os cheiros, as coisas, as rotinas. Há regras que nós, que já estávamos em casa, temos e não sabemos que temos, e nem pensamos em explicar porque assumimos que é assim para toda a gente, ou até explicar o sítio onde estão as coisas.

Sem comentários:
Enviar um comentário